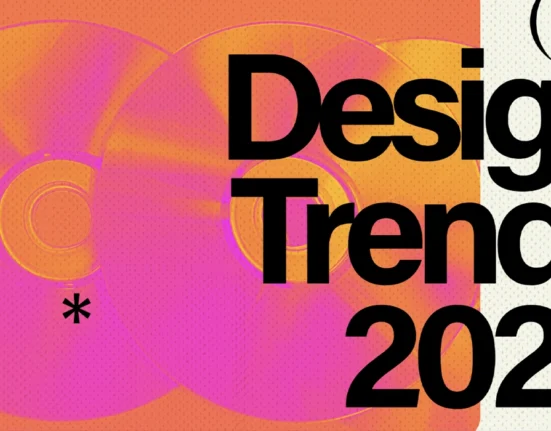Até há pouco tempo, só era possível encontrar imagens da Amazônia na tela grande como um lugar mítico ou “exótico”. Nos últimos anos, alguns cineastas locais vêm, em seus filmes, mostrando a riqueza da região com suas identidades indígenas plurais e cultura diversa.
Imagem: Melicoccus bijugatus, Mamoncillo | © Erika Torres, 2019
Explorada por viajantes de diversas épocas, tais como os alemães Alexander von Humboldt e Carl Friedrich Philipp von Martius ou o português Alexandre Rodrigues Ferreira, a Amazônia povoa há muito o imaginário não só dos países ditos ocidentais. De acordo com a professora Selda Vale da Costa, coordenadora do Núcleo de Antropologia Visual da Universidade Federal do Amazonas, o “conceito Amazônia” começou a ser construído pelo imaginário europeu no século 16. “Havia uma invenção intencional, isto é, que visava atender aos interesses econômicos e políticos da metrópole. E, por outro lado, também um imaginário que refletia o nível de conhecimento sobre a região a partir de outras partes do mundo, como a África e a Ásia”, diz a especialista.
Algo semelhante ocorre quando se fala da representação da Amazônia no cinema. “Até os anos 1970-1980, A Amazônia sempre foi vista, não importando qual a origem dos cineastas, como o espaço do exótico, do mítico, do desconhecido, mas também como território do primitivismo, das monstruosidades. Filmes sobre povos canibais, caçadores de cabeças, formigas gigantescas, anacondas assassinas, eram a representação mais frequente sobre essa parte do planeta, que já foi aclamada como o último território do mito”, reflete Costa.
Gustavo Soranz, documentarista e produtor de cinema e TV, aponta o filme The Lost World (1925), de Harry O. Hoyt, uma adaptação do livro homônimo de Arthur Conan Doyle (1912), como um caso emblemático: “O filme reúne elementos recorrentes deste tipo de cinema de ficção: a região é um destino exótico ou perigoso para uma equipe de cientistas ou exploradores, em uma jornada que se configura como uma aventura envolta em mistério e perigo, na qual encontrarão uma natureza hostil e uma população primitiva e selvagem. Esse tipo de enredo é basicamente o mesmo do filme Anaconda, dirigido por Luis Llosa e lançado em 1997”, exemplifica Soranz.
DUPLAMENTE COLONIZADOS
“É como se a Amazônia não tivesse história e existisse fora da história. Ela continua sendo um lugar mítico, onde podemos encontrar os tópicos associados ao imaginário colonizador. A Amazônia como o Outro do Ocidente”, descreve Soranz. Segundo Costa, essa perspectiva não está presente apenas no cinema de outros países, mas também no do próprio Brasil. “O país não conhece a Amazônia, e pior, pensa que conhece e produz imagens distorcidas, que muitas vezes interessam ao status quo. Além da ignorância sobre a história e vida dos povos, há por parte dos regionais um certo colonialismo das imagens de filmes estrangeiros e de TVs que se reproduz na produção documental e de ficção. Com isso, somos duplamente colonizados, visual e politicamente”, afirma Costa.
MUDANÇA DE PERSPECTIVA
Em função de uma maior atenção a questões ambientais, a partir dos anos 1980, foram realizados filmes que remetem à região, mas que ainda continuam mantendo, na visão de Soranz, a representação de uma Amazônia idílica. Costa não vê, tampouco, uma mudança nesse quadro em função da consciência ecológica, mas sim a partir dos movimentos sociais e culturais ocorridos durante a democratização do Brasil e a retomada do cinema brasileiro. “No Acre, por exemplo, não foi apenas a consciência ecológica que despertou os cineastas, mas a luta dos seringueiros, como Chico Mendes”, exemplifica a professora.
Para ela, foi a partir de filmes de documentaristas como os do britânico Adrian Cowell (Década da Destruição), ou do brasileiro Jorge Bodanski (Iracema – uma transa Amazônica, Projeto Jari), e de documentários realizados por outros cineastas da região, que houve uma tentativa de captar “as realidades” amazônicas: “realidades, no plural, dos povos indígenas, caboclos ribeirinhos, seringueiros, garimpeiros, pescadores, mulheres quebradoras de babaçu”. Novas perspectivas, como as propostas pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, começam a se fazer presentes na crítica de cinema. “Entretanto, é algo que ainda está no campo da análise acadêmica. Não vejo o pensamento de Viveiros de Castro refletido na produção cinematográfica propriamente”, diz Soranz.
PRODUÇÃO LOCAL
Nos últimos anos, cineastas de Manaus e Belém vêm realizando filmes a partir de um outro olhar. É o caso de Sérgio Andrade, cujo segundo longa-metragem, Antes o tempo não acabava, codirigido por Fábio Andrade, foi lançado no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale, em 2016, e tem como protagonista um jovem indígena Tikuna, que decide se mudar para Manaus, trazendo à tona questões identitárias.
Para ter onde ir (2018), primeiro longa da diretora paraense Jorane Castro, também traz novos sotaques e paisagens às telas. “Parece um olhar completamente diferente daquele típico sobre a região. Uma road trip feminista, se assim quisermos”, diz Soranz, e complementa: “Essa produção está amadurecendo e deve estimular a possibilidade de repensar a relação entre natureza e cultura, contribuindo para uma visão mais complexa sobre a Amazônia e sua população”.
Produções de outros países latino-americanos também trazem olhares diferentes para a região. É o caso, por exemplo, do colombiano O abraço da Serpente (2005), dirigido por Ciro Guerra, com roteiro baseado nos diários dos viajantes Theodor Koch-Grunberg e Richard Evans Schultes. Shipibo, la película de nuestra memoria (Peru, 2011), por sua vez, é um documentário que busca nos povos shipibo os protagonistas do filme Shipibo, Men of the Montaña (1953), realizado pelo antropólogo norte-americano Harry Tschopik Jr. Dirigido por Fernando Valdivia, o filme discute com os indígenas sobre sua identidade e as mudanças culturais pelas quais passaram nas últimas décadas
ESPAÇO DE TROCA E CONFIANÇA
Valdívia, que já assinou outros filmes com temáticas indígenas, como La travesía de Chumpi (2012) e Iskobakebo. Un difícil reencuentro (2014), é também diretor da Escuela de Cine Amazónico. Criada em 2014, em Pucallpa (Peru), a escola tem o intuito de formar jovens urbanos e indígenas para a produção audiovisual, além de revelar a Amazônia a partir de um ponto de vista da população nativa. “O cinema independente em países com culturas tão ricas e vivas como o Peru precisa descolonizar seus conceitos e processos. Por séculos, nossos ancestrais praticaram a solidariedade cotidiana, seja o Ayni dos Andes ou a Minga na selva. Na Escola de Cinema Amazônico, pretendemos recuperar essa mística para levar adiante obras em que as diversas culturas de nossa Amazônia e suas narrativas sejam protagonistas de um cinema que consideramos representativo dos povos, diverso, democrático e espiritualmente nutritivo”, afirma Valdívia.
Fernando Valdivia, diretor da Escola de Cinema Amazônico, com Pansitinma, que aos 12 anos foi protagonista de um livro e de um filme e atualmente é cineasta indígena. Comunidade de Nuevo San Martín. Foto: Alex Giraldo.
No Brasil, o projeto Vídeo nas Aldeias trabalha desde 1986 impulsionando a produção audiovisual entre diferentes povos indígenas. Além de circularem em festivais, os filmes são exibidos nas aldeias, promovendo um intercâmbio cultural e de experiências. Para André Brasil, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, projetos como esse fazem parte de um cinema que concebe a imagem como espaço de relação, de troca, de conflito e de aliança, diferentemente de uma tradição ocidental que muitas vezes pensa a imagem como captura, como conhecimento sobre o Outro, a partir da separação entre o sujeito e seus objetos. “O importante é como cada filme participa do processo de autoinscrição e autodeterminação de cada povo, não apenas documentando ou encenando esse processo, mas incidindo nele”, explica Brasil. Nesse sentido, esses filmes de uma safra relativamente recente podem ser vistos como um dispositivo de “alargamento dos imaginários tão reduzidos que se projetam sobre a multiplicidade dos povos indígenas”.
*Esta matéria faz parte da Revista Humboldt, desenvolvida pelo Goethe-Institut e foi cedida gentilmente, em parceria, ao FTC. Você pode ler outras matérias da edição Cosmo aqui.
AUTORA
Camila Gonzatto é doutora em Teoria da Literatura, na área de Escrita Criativa, pela PUCRS. Trabalha com cinema e televisão, como roteirista e diretora, além de escrever sobre cinema, literatura e artes visuais para revistas e publicações acadêmicas.
Copyright: Goethe-Institut Brasilien/Abril de 2019